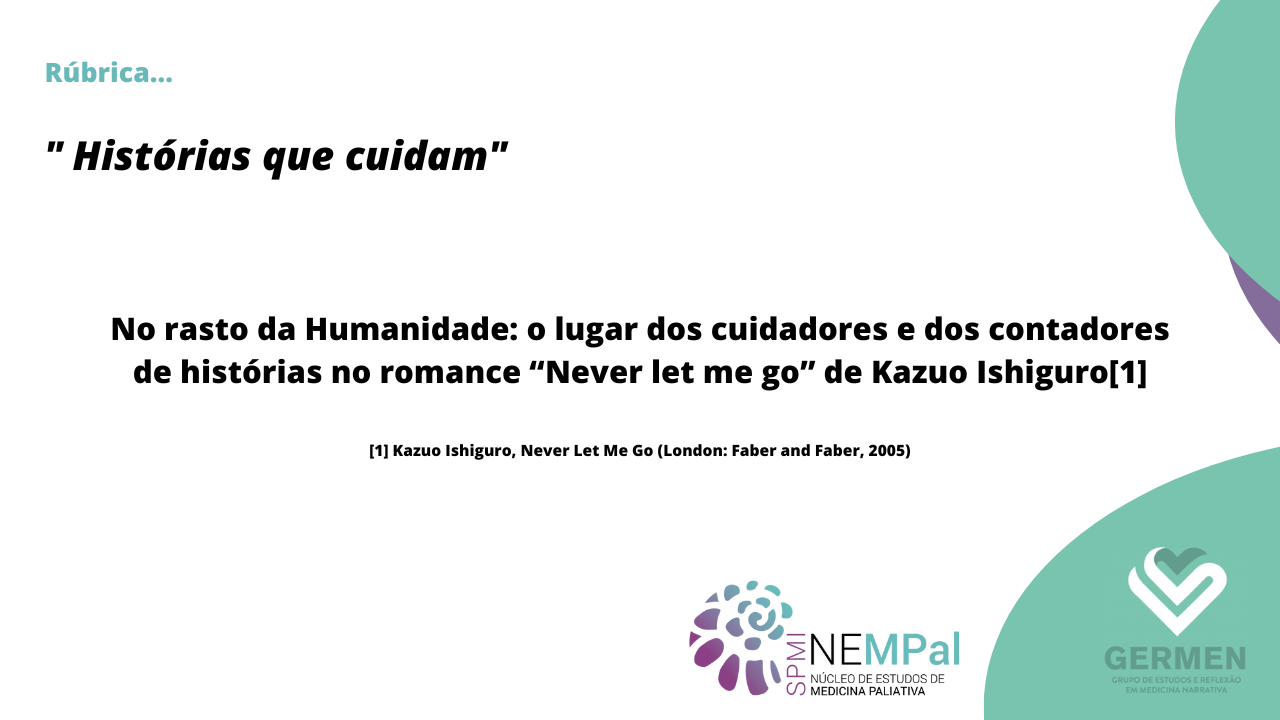
No rasto da Humanidade: o lugar dos cuidadores e dos contadores de histórias no romance “Never let me go” de Kazuo Ishiguro
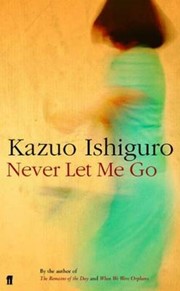 ‘It is in the nature of beginning” — she claims — “that something new is started which cannot be expected from whatever may have happened before. This character of startling unexpectedness is inherent in all beginnings … The fact that man is capable of action means that the unexpected can be expected from him, that he is able to perform what is infinitely improbable. And this again is possible only because each man is unique, so that with each birth something uniquely new comes into the world.’ (Arendt, 1958: 177–8)[1]
‘It is in the nature of beginning” — she claims — “that something new is started which cannot be expected from whatever may have happened before. This character of startling unexpectedness is inherent in all beginnings … The fact that man is capable of action means that the unexpected can be expected from him, that he is able to perform what is infinitely improbable. And this again is possible only because each man is unique, so that with each birth something uniquely new comes into the world.’ (Arendt, 1958: 177–8)[1]
No romance “Never let me go” (2005), do escritor britânico nascido no Japão Kazuo Ishiguro, somos confrontados com a interrogação sobre o que significa ser humano num mundo novo de clones e dos seus criadores, onde a promessa de Ser Eu próprio é privilégio dos seres humanos não clonados que vivem numa sociedade regida pelo mito da perfeição, aqui interpretado como o mito da imortalidade. Como a morte só pode ser adiada, mas não apagada, a utopia dura enquanto permanece o fosso entre o ideal e a realidade. Uma vez ultrapassado este fosso, a utopia desaparece.
Este romance sublinha três condições importantes da condição humana: memória, empatia e a capacidade e vontade de contar a própria história ao Outro. Permite-nos experimentar um mundo de clausura, de impossibilidade, pré-determinação e silêncio, no qual cada nascimento não significa um novo começo, sendo antes um momento de repetição, de mímica, de fabricação. É um romance criado num mundo, onde o ideal de um ser humano perfeito e duradouro já não funciona como uma luz orientadora, constante, que se vislumbra no intervalo entre o ideal e a realidade. O desrespeito pela fronteira entre o que se idealiza e o que é de facto experienciado permite-nos, a nós, leitores, compreender o que significa esta violação ontológica para a humanidade e para a ciência.
Mergulhamos no enredo, envolvidos pela história de amor entre Kathy H. e Tommy D, à medida que pressentimos, desde o início, que algo estranho paira no horizonte que se estende para lá do colégio interno de Hailsham, situado numa paisagem rural britânica, Embora apenas sejamos informados oitenta páginas depois do início do romance sobre o futuro pré-determinado dos estudantes de Hailsham, concebidos como meros subprodutos médicos utilizados para a colheita de órgãos em benefício da humanidade, não se trata de uma revelação que nos surpreenda verdadeiramente. Tal como assinala Miss Lucy, uma das professoras/guardiãs de Hailsham, somos capazes de intuir a realidade entre o que nos é dito e o que não nos é dito:
The problem, as I see it, is that you’ve been told and not told. You’ve been told, but none of you really understand, and I dare say, some people are quite happy to leave it that way. But I’m not. If you are going to have decent lives, then you’ve got to know and know properly. (…)Your lives are set out for you. You’ll become adults, then before you’re old, before you’re even middle-aged, you’ll start to donate your vital organs. That’s what each of you was created to do. (…) You were brought into this world for a purpose, and your futures, all of them, have been decided. (‘Never Let me go’, 79-80)
Este é o campo de um novo mito – o mito da auto-constituição do homem – que nos conta a narrativa de uma Humanidade que procura imergir todo o bios no ethos, tornando-se puramente racional. A verdade de Miss Lucy e a sua tentativa de revelar aos estudantes clonados de Hailsham a sua verdadeira natureza, da qual não há fuga possível, assume que, contra todas as expectativas, estes clones têm nomes, rostos e personalidades únicos. Eles são o Outro, aquele que solicita que Miss Lucy lhes revele a sua verdadeira origem, aquele que explica o nosso desejo, dolorosamente escondido, de que o seu futuro possa ser diferente, de que Kathy e Tommy possam efetivamente adiar o seu fim e viver mais tempo o seu amor. Sentimo-nos impacientes com a passividade das personagens deste romance, com a sua obediência às regras de Hailsham; com a sua acomodação ao papel de cuidadores e finalmente ao de doadores, até completarem o seu ciclo. Não sendo humanos, não podem morrer, mas sim completar um projeto, um ciclo (im)perfeito. As fronteiras estabelecidas em Hailsham, que nenhum estudante deveria ultrapassar, são ecos das fronteiras entre o mundo fechado dos clonados e o mundo livre dos seres humanos que vivem para lá daqueles muros invisíveis. Apesar de todos os limites que lhes são impostos, a humanidade dos clones está constantemente a transbordar, como se, apesar de todos os esforços para os manter dentro dos laboratórios, do internato, dos hospitais, acabassem por ser visivelmente humanos.
A história de Miss Lucy funciona no mesmo caminho, mas na direcção oposta, das histórias de doença, segundo Arthur W. Frank em “The Wounded Storyteller”[2]. Frank salienta que “as narrativas de doença representam naufrágios, porque o presente não é o tempo a que o passado deveria conduzir e o futuro é dificilmente concebível “. No mundo ferido de “Never let me go”, o presente está enraizado num passado desconhecido e o futuro de cada clone está inscrito no momento da sua criação, de acordo com um programa que os instrumentaliza. Apesar destas diferenças, tanto as histórias de doença como a história contada por Miss Lucy têm uma dupla função: restaurar a ordem que a interrupção fragmentou e dizer a verdade sobre a continuidade das interrupções. No caso de uma doença, o sentido coerente da vida é perturbado e só pode ser recuperado contando a história desta experiência particular, restaurando a memória, criando “a estrutura da memória que constituirá a essência da história para o resto das nossas vidas”. Falar é, neste sentido, recordar. A pessoa que fica doente não é apenas interrompida pela doença, também o é na fala, no horário, no sono e estas interrupções fazem com que os outros a vejam como interruptível. Ao contar a história da sua doença, cada um de nós assume a responsabilidade pelo seu papel de testemunha e solicitamos que o Outro que seja também testemunha da nossa história. O acto de testemunhar implica ser verdadeiro, ser autêntico, procurando revelar a essência da experiência, do vivido, mesmo que seja contrária ao que os outros gostariam de ouvir: Esta verdade vai incomodá-lo, mas no final, não pode ser livre sem ela, porque já a conhece; o seu corpo já a conhece.
A narrativa de Miss Lucy recusa o silêncio e a negação e, embora a sua história seja desconfortável para Kathy, Tom, Ruth e os outros estudantes que a escutam, a verdade é que eles já o sabiam, os seus corpos sabiam-no. A versão de Miss Lucy restaura a suposta ordem, revelando a verdade de que não há futuro, excepto aquele que é suposto ser.
Kathy, a narradora de “Never let me go”, cujos olhos nos guiam a nós, leitores, conta uma história que não é apenas memória, mas é também a narrativa originária do Eu, contradizendo assim a suposição lógica de que, no caso dos clones, tudo é um dado adquirido e nada de novo será revelado. Ao contar sobre a sua vida como clone, escapa em parte à condição clonada de isolamento, vazio, sombras, estabelecendo a relação entre quem narra e quem escuta. Kathy, a contadora de histórias, faz-nos revisitar a interrogação primordial sobre o que nos define enquanto seres humanos. Em “Never let me go”, mergulhamos num território desfamiliarizante de clones desinvestidos da sua humanidade, mas de quem se espera que sejam capazes de cuidar do Outro. Não só serão fontes de órgãos para quem deles precisar, como também serão chamados a cuidar de outros clones enquanto estes recuperam após cada doação e quando terminam o seu ciclo, ou seja, quando morrem (após três doações). A narrativa de Kathy revela o que acontece quando as pessoas são instrumentalizadas e as suas histórias silenciadas: quando todos os futuros possíveis são cortados e a esperança desconstruída. A voz de Kathy sublinha a tentativa infrutífera de apagar o Eu na relação com o Outro, destacando o vazio que irrompe sempre que a nossa condição de Pessoa é negada face a um conjunto de imposições estandardizadas, sem rosto, sem nome, sem história. Os diferentes tipos de narrativas de doença definidos por Arthur W. Frank em “The Wounded Storyteller” – restituição, caos e histórias de demanda – implicam diferentes abordagens de escuta, todas elas assentes no pressuposto de que “tanto as instituições como os ouvintes individuais conduzem as pessoas doentes para certas narrativas, sendo que há determinados tipos de narrativas que simplesmente não são escutadas.” (Frank, 2013:76-7)
Em “Never let me go” somos convidados a refletir sobre o modo como enquadramos as nossas narrativas e as dos outros; sobre a forma como os seres humanos procuram erradicar a mortalidade, transformando a doença numa rota transitória, que não deverá desvirtuar o sentido da viagem; sobre a caótica falta de coerência quando a futilidade e a impotência nos dominam; sobre o que significa ter voz própria no território da nossa humana fragilidade/vulnerabilidade.
As narrativas de restituição de A. W. Frank prometem uma aterragem segura, não integrando nem o sofrimento nem falhas inesperadas. São narrativas que protegem a sociedade dos que (ainda) estão saudáveis, silenciando os que adoecem com a promessa de que o futuro será definitivamente tempo de reabilitação, de regresso ao mundo produtivo. É este tipo de narrativa que consubstancia o programa de clonagem, construindo uma fronteira clara entre quem adoece e quem será instrumento para a garantida recuperação, repositórios de órgãos num mundo focado na procura da imortalidade. Debaixo da superfície da normalidade, encontra-se o caos que irrompe nas crises de Tommy, no rabisco furioso de Miss Lucy sobre uma página com um lápis, no medo que Madame sente face aos estudantes Hailsham, na nossa própria consciência da impotência para manter Kathy, Ruth e Tommy juntos, para nunca os deixar partir.
A narrativa de demanda é a história contada por Kathy, personagem que é capaz de contar a sua própria história e de integrar o sofrimento, enquadrando a doença como uma viagem. Kathy, Tommy e Ruth conhecem os limites das suas caminhadas por Hailsham e pelos Cottages e, apesar da sua liberdade de movimentos, nunca fogem, nunca quebram as regras, ficando assim cristalizados num movimento centrípeto: sempre a sair e sempre a voltar ao mesmo lugar. Num mundo sem estrutura familiar, os tutores de Hailsham e a própria escola representam o cordão umbilical que dá início à identidade narrativa construída por cada uma das personagens principais, principalmente por Kathy. O lugar onde eles estão e o lugar onde nós, leitores, podemos estar, são para Kathy a origem que explica quem é cada um de nós. Lugar e tempo cruzam-se nas estradas que as personagens estão ansiosas por explorar, o que é ainda mais irónico e significativo se tivermos em mente que elas não vão a lado nenhum.
A viagem de Norfolk é a viagem mais importante do romance, uma vez que se trata tanto de uma viagem de progresso, em busca da mulher de quem Ruth teria sido clonada, como de uma viagem de retrocesso nas sombras de Hailsham: “On that journey home, with the darkness setting in over those long empty roads, it felt like the three of us were close again and I didn’t want anything to come along and break that mood” (181). Mas este estado de espírito rompe-se e o programa/a vida destas personagens atinge a sua completude, depois de terem passado pela experiência de cuidadores e de doadores. Enquanto cuidadores, estes seres clonados experienciam a mesma solidão, a mesma impotência, o mesmo empenho em dar ao outro uma vida que vale a pena viver, mesmo que apenas por alguns dias ou semanas. Se estes clones partilham os mesmos sentimentos com outros cuidadores, então talvez resida aqui a resposta à pergunta “O que é que nos torna humanos?”
A réplica dos clonados, com que este romance nos confronta, já é parte do nosso presente, não nos laboratórios, não no processo de clonagem propriamente dito, mas em tantas relações impessoais, baseadas apenas em evidência científica, entre quem adoece e quem cuida, bem como nas exigências impostas aos cuidadores como se fossem seres desprovidos de Identidade, de Pessoalidade:
“The bridges, that narrative skills enable between ‘doctor and patient or nurse and patient, are echoed and recapitulated in collegial relations between doctor and nurse, and in the even wider reflective communitas between patients in their neighborhoods and the health professionals who serve them.”(Charon, 2006: 229)[3]
Existe, portanto, uma tapeçaria de relações que melhoram a sua qualidade quando o foco é o indivíduo e o singular, em vez de se concentrarem apenas em estatísticas e no universal.
A história de Ishiguro adverte-nos contra a perda de individualidade e singularidade num mundo fabricado, que ressoa significativamente no território dos cuidados de saúde. A teia de histórias, da qual este romance faz parte, deve ser preservada, para que se possa oferece esperança aos que sofrem e aos que cuidam. Afinal, é pela memória narrada que atestamos a nossa identidade e confirmamos que só podemos Ser na relação com o Outro.
Grupo de Estudos e Reflexão em Medicina Narrativa (GERMEN)
Susana Magalhães e Manuela Vidigal Bertão
[1] Hannah Arendt. The Human Condition (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1958), 177-78.
[2] Frank, Arthur. W. The Wounded Storyteller: Body, Illness and Ethics, 2nd edition. Chicago and London: University of Chicago Press, 1995.
[3] Charon, Rita. Narrative Medicine: Honoring the Stories of Illness. Oxford: Oxford University Press, 2006.


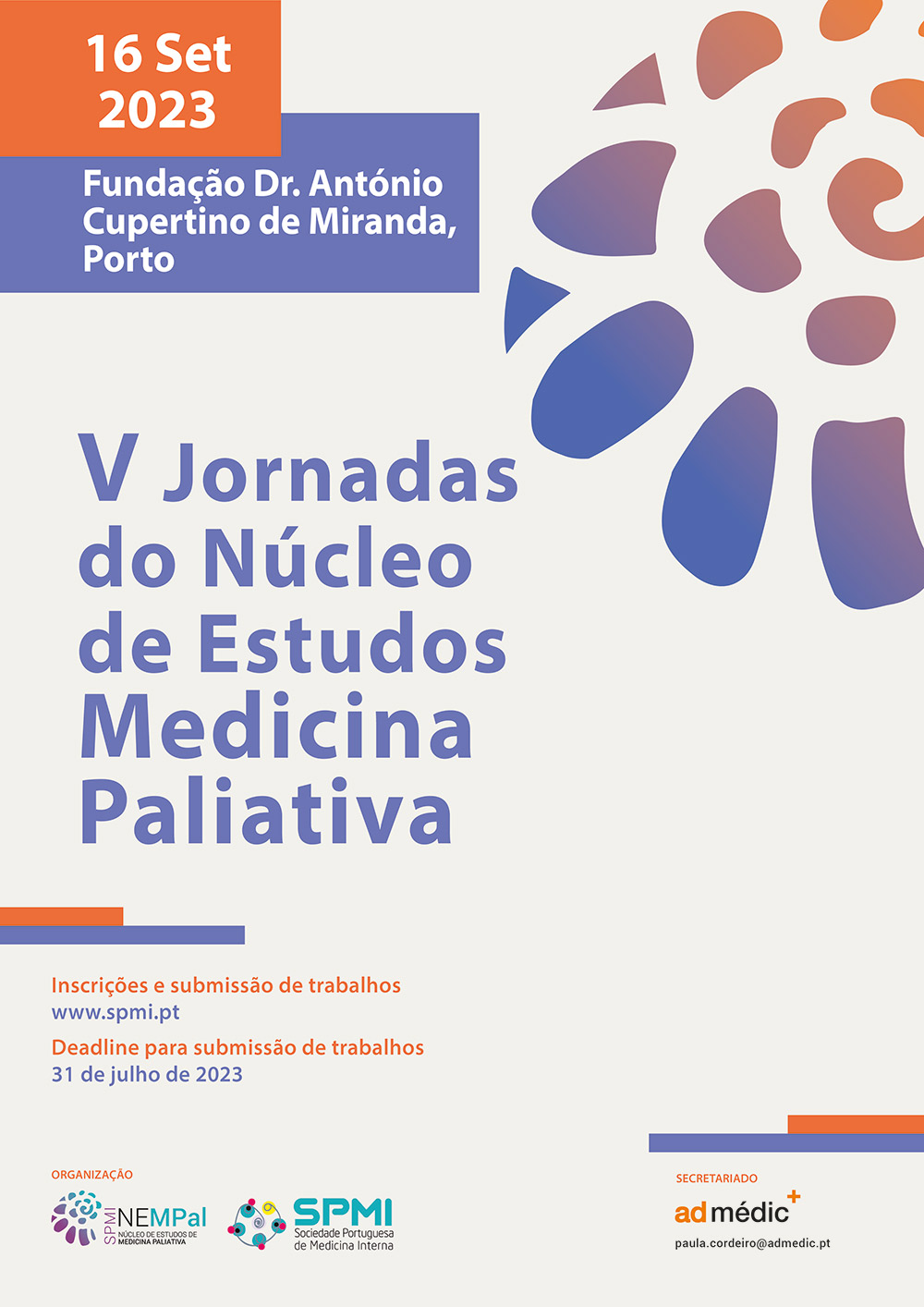

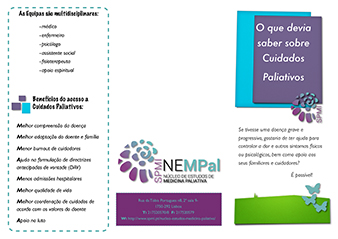 Clique na imagem para consultar o folheto
Clique na imagem para consultar o folheto


