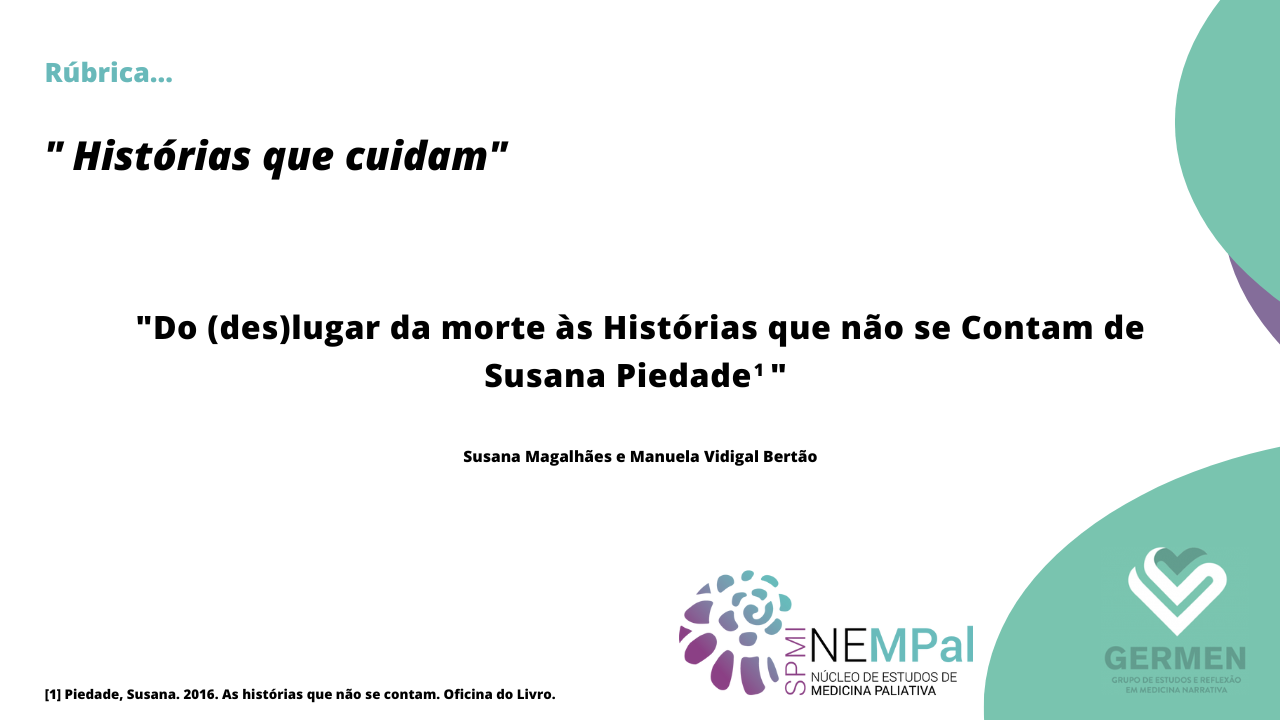
 A árvore existe e continua para fora da tua acidentalidade suprimida. O que te distingue e oprime é o pensamento que a pedra não tem para se executar como pedra. E as estrelas, e os animais. Funda aí a tua grandeza se quiseres, mas que reconheças e aceites a grandeza que te excede. (…) O dia acaba devagar. Assume-o e aceita-o. É a palavra final, a da aceitação. (…) Pensa com a grandeza que pode haver na humildade. Pensa. Profundamente, serenamente. Aqui estou. Na casa grande e deserta. Para sempre.
A árvore existe e continua para fora da tua acidentalidade suprimida. O que te distingue e oprime é o pensamento que a pedra não tem para se executar como pedra. E as estrelas, e os animais. Funda aí a tua grandeza se quiseres, mas que reconheças e aceites a grandeza que te excede. (…) O dia acaba devagar. Assume-o e aceita-o. É a palavra final, a da aceitação. (…) Pensa com a grandeza que pode haver na humildade. Pensa. Profundamente, serenamente. Aqui estou. Na casa grande e deserta. Para sempre.
(Vergílio Ferreira, Para Sempre, pp. 301-2)
As histórias que não se contam anunciadas no título são narradas por três mulheres que se encontram no sofrimento que a dor da ausência provoca. Isabel, Ana e Marta cruzam-se no lugar onde cada vez mais se morre, o hospital: “O hospital é um sítio estranho onde ninguém quer estar, aflige, tem cheiro a desconhecido.” (p. 29); “O hospital é um lugar estranho que não convida a ficar”. No entanto, há quem procure nele um rosto que adormeça a solidão, como a Dona Lurdes, “que arranja sempre maneira de para cá voltar à conta da atenção que lhe vamos dando. Dá-me pena um dia poder encontrá-la de cabeça caída, a mão finalmente largada do comando da televisão e ouvir correr o boato: «Morreu no cadeirão das visitas.» Sem visita alguma”. É neste deslugar da morte (conceito explorado pelo Padre José Nuno Ferreira da Silva, no seu livro “A morte e o morrer entre o deslugar e o lugar: precedência da antropologia para uma ética da hospitalidade e cuidados paliativos”), que estas três mulheres iniciam um caminho tecido por palavras e silêncios partihados. Juntas, “abrem os olhos, ganham fôlego, desenterram os pés do chão (p. 12)[1] e reencontram um lugar no mundo, depois de terem habitado um sítio imaginário, um não-lugar onde ficaram sozinhas a balouçar no vazio(p. 20)[2] , para onde a morte de seres queridos as atirou: Isabel perde o filho Francisco, de dois anos num acidente trágico; Ana perde o namorado, João, vítima de um acidente vascular cerebral hemorrágico; Marta perde-se, vítima da violência que a destrói sob a máscara de um amor doentio.
A perda e o sofrimento são parte da condição humana, mas o que hoje vivemos enquanto sociedade é uma conspiração do silêncio que cala no Outro a sua fragilidade para que a ilusão da perfeição e da imortalidade não se desvaneça. Por isso, viver o luto é cada vez mais difícil e se para amarmos temos de ter uma primeira experiência de afetividade, para vivermos o luto e para morrermos bem precisamos de realizar a nossa condição humana que é a de sermos em relação.
O sofrimento causado pela morte de um filho, de um namorado, ou da nossa identidade é uma perda do mapa que até então nos guia. Isabel, Ana e Marta redescobrem-se e constroem mapas alternativos à medida que contam as suas histórias umas às outras. A resposta à vulnerabilidade de cada uma destas três mulheres é a solicitude e a responsabilidade, assumindo que não temos cuidado. Somos cuidado.
Como se cuida de quem morre com a morte do Outro? A dor da perda (luto) é proporcional ao grau de vinculação. A vinculação primeira entre mãe e filho é a premissa para uma educação para a paz, para o diálogo. É no útero materno que esta educação se inicia: “a primeira educação para a paz é o envolvimento de ternura e de acolhimento da criança que foi sendo gerada, tanto no pensamento dos pais como na quentura do útero materno. (…) Estes sentimentos pacificadores formam o primeiro núcleo da educação para a paz. São a primeira imunidade, porque representam a certeza de que a relação interpessoal é possível” (BISCAIA, Jorge, Perder para Encontrar. Coimbra: Gráfica de Coimbra, 2003, p. 50).
Quando este vínculo se rasga, o sofrimento dos pais que perdem um filho é uma “verdadeira amputação de tudo o que temos de mais nosso e de mais sagrado. Um poço seco de onde nunca mais saímos, caímos lá e não vemos nada, agarramo-nos ao que calha só para não morrermos de repente, parados como água parada, como se não tivéssemos já morrido por dentro” (p. 94). E quando este vínculo não se constitui? Como nos construímos?
“Não me iludo, sei que és um traste, que possivelmente não tens remédio, mas se calhar não mereço melhor do que isto que me saiu na rifa. Tomei a infelicidade no ventre da minha mãe, envenou-me, condenou-me a ir ao encontro do que há de mais ruim.” (p. 215)
Entre a ausência de afetividade (resumida ao amor paterno até aos cinco anos de idade, altura em que o pai morre) e a violência entre muros que parece arrancar qualquer réstia de esperança, Marta persegue um modelo de relação enraízado na dependência do outro e no apagamento da auto-estima. Gil prolonga no tempo a violência iniciada pela mãe:
“Atiraste-me ao chão e assentaste o pé na minha cara para que eu sentisse bem o peso da humilhação. Depois baixaste-te sobre mim com a mão a apertar-me o pescoço, o teu joelho firme no meu tórax.” (pp. 107-108) E depois a máscara da normalidade que aprisiona qualquer tentativa de procura de sentido: “Jantámos em silêncio sobre a mesa desfeita, manchada para sempre, os sapatos de salto a esmigalharem os vidros no chão. Parecias inexplicavelmente mais sereno, enquanto levavas umas garfadas de assado à boca que nem um alarve” (p. 109).
A máscara de normalidade que Gil empresta a esta cena de horror é também a que sufoca Ana quando, engolida pela dor da morte do João, observa à janela do seu quarto o movimento rotineiro na rua: as crianças a fazerem birras, as raparigas novas de iPod na mão, “os avós a passearem os netos mais novos, a levarem-nos ao infantário, a criarem laços e memórias. A falta que iriam fazer, um dia. Mesmo quando para, a vida continua, não se empata com a desgraça alheia.” (pp. 84-85).
Para estas três mulheres, a fragilidade na busca do sentido da vida faz-se incompreensão, na medida em que os acontecimentos que as derrubam colocam-nas perante o desafio terrível do sem sentido. A fragilidade é, portanto, vivida como o sofrimento das mudanças imprevisíveis que a vida lhes impõe. As histórias que não se contam materializam nas imagens e na palavra escrita a essência do sofrimento, mesmo quando resistimos a testemunhá-lo, não vá o diabo tecê-las e isto acabar por ser contagioso. Goya, no seu quadro, No se puede mirar, aproxima o espectador do cenário das execuções durante a guerra da independência que assolou Espanha contra o exército de Napoleão, uma guerra internacional e civil. Estamos perto das vítimas que cobrem os rostos com as mãos para não verem as armas apontadas, e, apesar do aviso inscrito na legenda Não se pode olhar, olhamos e experimentamos a desumanização que o poder sobre o outro arrasta num excesso de violência sem sentido. O romance “As histórias que não se contam” pressagia uma impossibilidade narrativa – as histórias que não podemos contar-, constituindo, tal como o quadro de Goya, uma metaficção, ou seja, partilhando da mesma autorreflexividade: o quadro e o romance afirmam a impossibilidade para sublinhar que esta é afinal parte do sistema que perpetua a violência, a conspiração do silêncio. Só pelo olhar, pela narrativa, é possível desconstruir a realidade violenta, surda, doente. Espectadores da pintura de Goya, leitores do romance de Susana Piedade, somos co-construtores das histórias que se contam e sem as quais não é possível (con)viver com o sofrimento.
Isabel, Ana e Marta narram as suas histórias primeiro para um outro que é simultaneamente real e imaginário – Francisco, João, Gil -, fechadas num universo entrópico. Pelo encontro entre as três, as narrativas abrem-se ao outro que as acolhe, abrindo espaço ao sentido de comunidade:
“Contar-lhes a verdade, ter alguém em quem confiar, abriu-me uma porta desconhecida. Já não me sinto aprisionada, alivia-me o fardo, estou menos só do que sempre estive. Se as coisas correrem mal, se falhares nas tuas promessas, tenho amigas a quem recorrer. Alguém que me diga que não sou eu o problema, mas tu. Porque nunca fui eu, e é curioso que só agora o perceba” (p. 214).
Para contarmos a nossa história, precisamos das histórias dos outros. As experiências vividas na primeira pessoa são intensamente pessoais; mas a capacidade de ter experiências depende da partilha de recursos culturais dos quais emanam palavras, significados, e fronteiras que segmentam o curso do tempo em sucessivos episódios. O caos vivenciado nas narrativas fechadas de cada uma das três amigas transforma-se em procura de sentido, não formatado pela anestesia do sofrimento proposta pela sociedade, mas verdadeiramente construído pela experiência, narrativa e memória.
Pela narrativa das suas histórias, cada uma destas três mulheres consegue ver mais além, o futuro recupera o seu lugar. Isabel, Ana, Marta, juntas nos fios invisíveis que a vida tece. O silêncio tornou-se desnecessário, já não as esconde, não lhes traz conforto. Agora olham o abismo de frente, sem medo de caírem nele novamente. Já lá estiveram, partidas pelo caule, sabem o que custa trepar tudo de volta até cima. Está na hora de regressar, olhar por quem precisa delas. O seu encontro tem de ser mais do que um acaso. É difícil o caminho, mas com jeito cabe nele tudo, fazem disso uma parte delas, das suas histórias. (pp. 338-339)
Afinal, faz toda a diferença contar e ser escutado/a.
Cada silêncio, cada palavra, cada imagem tão bem urdida neste livro é relevante, nada é por acaso, nem no universo diegético, nem na nossa relação com as personagens que o habitam. Tudo é essencial. Tudo é verbo:
“A falta que fazem as pessoas que nos deixam. As saudades não se confortam, são a lembrança atroz de tudo o que perdemos e brotam como mato. Ninguém nos avisa que são tão grandes que usurpam todo o espaço. Talvez ninguém morra verdadeiramente de saudades, mas há quem não consiga viver com elas. Um dia seremos apenas tudo o que fomos na vida de alguém” (pp- 233-234).
Susana Magalhães e Manuela Vidigal Bertão
Grupo de Estudos e Reflexão em Medicina Narrativa (Germen)
[1] “Abrimos os olhos, ganhamos fôlego, desenterramos os pés do chão. Ainda nos pega a dormência da paragem, mas com o tempo vão-se esticando as pernas.” (p. 12)
[2] “…não sei de que fujo, fujo de tudo. Quem me dera ser pequenina ao ponto de ninguém dar por mim, mínima, invisível. (…) Quero respirar e não consigo, tenho um nó na garganta, é mesmo verdade que se sente um nó a sufocar-nos. Abafados entre escombros, nem reserva de ar nem mão que nos resgate. Neste sítio imaginário onde ficamos quando não temos lugar no mundo. Sozinhos a balouçar no vazio.” (p. 20)


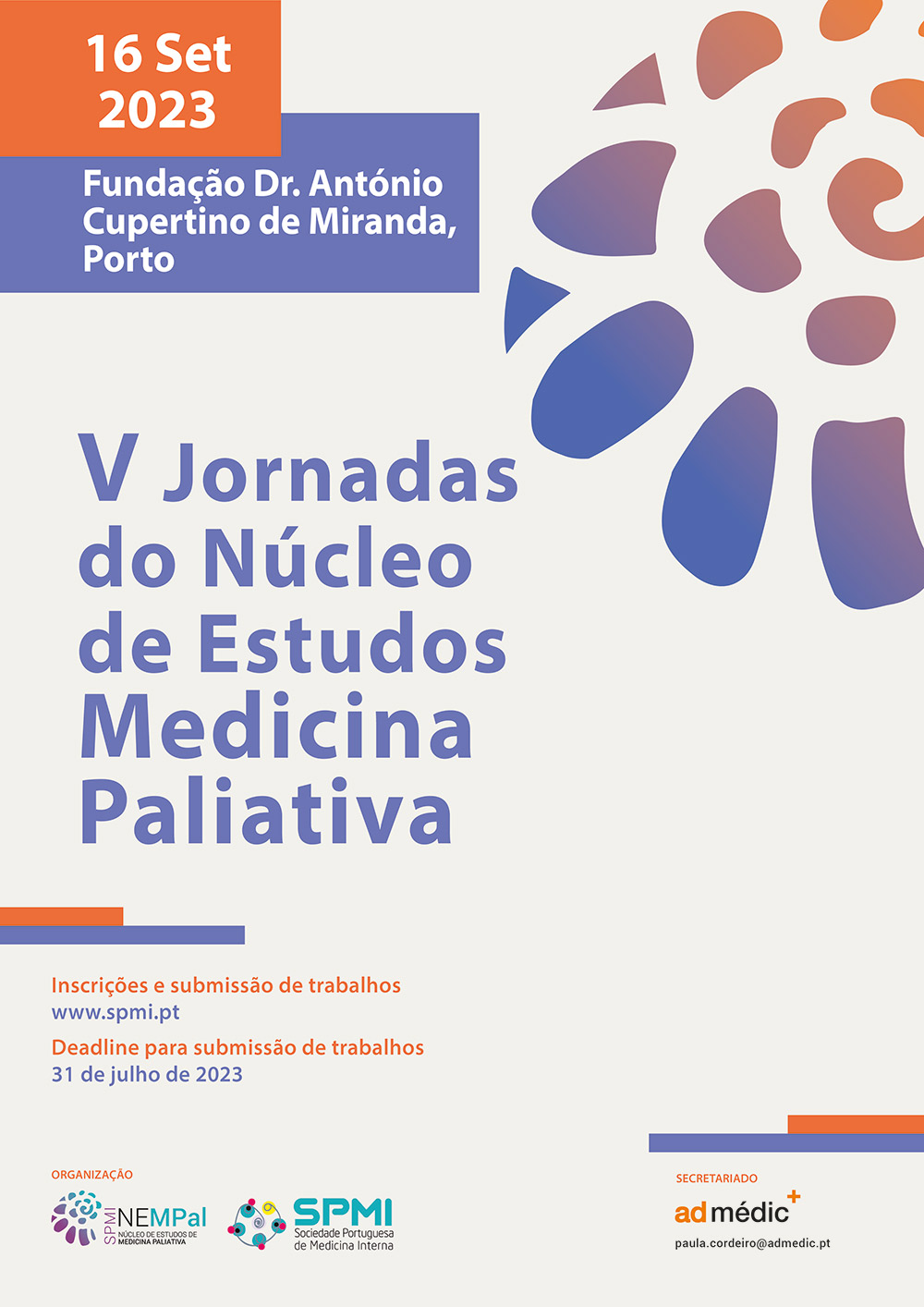

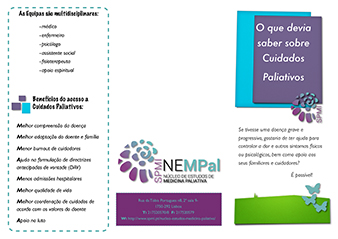 Clique na imagem para consultar o folheto
Clique na imagem para consultar o folheto


